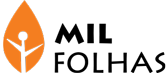Dizem que o cão foi o primeiro dos animais a ser domesticado pela humanidade. Dizem também que as primeiras plantas a serem domesticadas foram o trigo, a cevada, a lentilha, as ervilhas… Isso na Mesopotâmia, por aqui, outras foram as plantas domesticadas, o milho e a mandioca, por exemplo. Mas aqui também surgiu uma relação diferente da que chamamos tradicionalmente de domesticação…
A longa e íntima convivência entre humanos e mandiocas, como bem diz Joana Cabral de Oliveira, em seu belo texto Agricultura contra o Estado, na realidade não se restringe apenas a essas duas espécies, humanos e mandiocas, mas a um emaranhado de relações que envolvem polinizadores, formigas e regimes de manejo que jogam com a luz e com os nutrientes, em um mosaico territorial e temporal. Parece que essa relação está mais para coevolução do que para domesticação, isso porque, vale sempre lembrar, na dança entre os povos ameríndios e as mandiocas, essas preservam sua capacidade reprodutiva, não se tornando completamente dependentes dos humanos, como acontece com as espécies domesticadas. A ideia é fazer “parentes” e não subalternos.
O respeito à vida e à reprodução das manivas contrasta com as formas em que a agricultura industrial trabalha. Uma tentativa de sincronia, germinar ao mesmo tempo, crescer, florescer e frutificar simultaneamente para que seja possível colher, tudo junto, ao mesmo tempo. A diversidade temporal dos ciclos de vida dos organismos não cabe na lógica das plantations, a monocultura enseja novas monoculturas, também a monocultura do tempo, uma temporalidade monótona, como diz Anna Tsing. Outros povos, por sua vez, vivem numa polifônia de ritmos, em uma composição dos diversos tempos, dos humanos e não humanos.
A completa domesticação das plantas traz junto um tempo liso, sem as rugosidades, as dobras e o colorido da variação dos ritmos da vida. Ignora e atropela a agência dos outros seres, não humanos, com os quais compartilhamos o mundo, bem como não atribui valor à pluralidade. Quanto mais homogêneas as plantas, melhor. Mas a diversidade é um valor para muitos povos, que fazem da abertura para o outro, o motor de sua sociabilidade. Viver os ritmos da natureza, respirar junto com as mandiocas que crescem, acompanhar os polinizadores e a chegada das andorinhas desdobra o tempo, dando a ele múltiplas dimensões: a pluralidade do tempo.
Essa pluralidade, que se quer colonizada e domesticada, se revela nas frestas, nas brechas onde a vida brota, insistente, de outra forma, imprevisível, sincopada. Pode ser no surdo de terceira de Tião Miquimba, da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, descrito magistralmente por Luiz Antônio Simas, como um surdo diferente dos tradicionais surdos de pergunta e de resposta, o surdo de marcação e o surdo de segunda. Esse surdo mais agudo “brinca com o que é previsível, desnorteia, faz o inusitado.” O surdo de terceira desdobra um tempo, sincopa o que antes era silêncio, conduz a outro lugar, oferece novas possibilidades…
Com outra roupagem, o apreço a diversidade temporal pode ser pressentida numa passagem emblemática do livro “Um velho que lia romances de amor”, de Luis Sepúlveda, escritor chileno que nos deixou mais órfãos ao partir, vítima de Covid, em 2020. O trecho é uma conversa entre o protagonista, Antônio, um homem não indígena, que lia romances de amor, e caçadores do povo Shuar. O diálogo se dá porque os Shuar querem saber como é a vida no lugar de onde Antônio veio. Os Shuar se espantam quando Antônio, que veio de uma cidade, revela que ali não se caça.
“- E o que comem, então?
– O que der. Batatas, milho. Às vezes um porco ou uma galinha, para as festas. Ou um porquinho-da-índia nos dias de mercado.
– E o que fazem, se não caçam?
– Trabalhar. Desde que o sol sai até que se esconde.
– Que bobos! Que bobos! – sentenciavam os Shuar.”
Trabalhar de sol a sol, sem os encantos de andar pela floresta, sem se defrontar com suas nuances, sem espreitar os movimentos dos animais, sem entender seus desejos e anseios, transforma o tempo em algo monótono, igual, liso, bobo.
Um futuro que se traduz apenas na repetição de um passado, onde vagamos como autônomos tudo reproduzindo, em arranjos produtivos que só geram ricos e nunca riqueza. A memória de um passado melhor, que sequer existiu, passa a ser oferecida como objeto de consumo, quase uma commodity. Ao mesmo tempo, o passado, como uma herança que se recebe e se constrói, foi abolido, nas palavras de Peter Pal Pelbart. O tempo, que tentamos domesticar, nos prega uma peça. O futuro se converte em presente, o amanhã é hoje, antes mesmo de entendermos que ele já se tornou passado. Talvez a compulsão de tudo registrar, com celulares em punho, seja uma tentativa de aprisionar o tempo, pelo menos por um minutinho que seja ou um temor de nada mais ter a transmitir.
Como chama atenção Giselle Beigelman, em um texto com o adequado título de Memória Botox, a nostalgia de um passado imaginário que tem caraterizado as primeiras décadas do século 21, talvez seja uma tentativa de dar sentido à banalidade do presente. Ou talvez uma impossibilidade de acessar a memória, diante de sua contínua reconfiguração, plasmada, por exemplo, na lógica das timelines que se ordenam sempre a partir da mais atual. Ou ainda talvez simplesmente um desconforto visceral com um tempo linear e liso, cada vez mais acelerado.
Ao mesmo tempo, na Marcha das Mulheres Indígenas, que aconteceu na semana passada em Brasília, o que estava em todas bocas era a palavra “ancestralidade”. Uma intenção clara de dialogar com um passado enraizado, um lugar onde tempo e território se confundem. Aqui também é possível farejar a pluralidade do tempo, um tempo que pode ser cartografado nos territórios indígenas, mas que diferente do nosso presente, não se traduz em ruínas, mesmo quando destruído, incendiado e arruinado.
Território e tempo se unem aqui numa resistência contra as monoculturas, sejam elas espaciais ou temporais. Territórios não podem ser intercambiáveis, há elementos fundamentais, conectados à identidade dos povos, que não podem ser abandonados. O passado tampouco pode ser trocado, há marcos essenciais, talvez viscerais, não históricos, mas repletos de histórias que desdobram o tempo, em múltiplas dimensões, impedindo que ele seja domesticado.
Talvez o viver desse tempo, cheio de rugosidades e dobras, o tempo de outros povos, seja uma resistência à domesticação completa. Como no caso das plantas, melhor, quiçá, seja criar uma familiaridade com tempo, não submetê-lo, mas se aparentar com ele.
Se criar possibilidades para que os territórios existam com interações distintas com os seres vivos e não-vivos que ali estão, estabelecendo um mosaico de possibilidades que coexistem é um gigantesco desafio, como lidar com o desejo de viver – e deixar viver – temporalidades diversas nesse mundo presente?
Um exemplo intrigante e inspirador vem das mulheres Ikpeng, do Xingu. As Yarang são mulheres coletoras de sementes que somam o resultado de sua coleta ao de outros coletores da Rede de Sementes do Xingu, envolvida na restauração das florestas e cerrados da bacia do Xingu. Enquanto muitos coletores inventam técnicas e formas de coletar mais sementes, de processá-las mais rápido e entregar mais e mais, as Yarang fazem do coletar seu objetivo. Do caminhar pela floresta conversando, seu propósito, fazem do tempo desdobrado, labiríntico, estampado, seu viver. Coletam muito menos sementes, mas preenchem os espaços que dividem os momentos com infinitos.
A domesticação do tempo – que compreende não apenas sua linearização, mas aparentemente sua aceleração também – acaba com as possibilidades de viver diversas temporalidades e, consequentemente, ameaça a pluralidade de formas de estar no mundo. A proximidade entre seres humanos e não humanos revela, a cada momento, essas temporalidades. O tempo do germinar, o tempo da metamorfose, o tempo da castanheira, o tempo do fungo… Tempos que se sobrepõem, se comunicam, se encontram.
O descolamento de uma boa parte dos humanos desse emaranhado de vidas e tempos que compõem o mundo faz com que nossa relação com o tempo seja percebida como a única possível. Uma corrida sem fim, que não nos conduz a lugar nenhum, nem nos permite fruir o caminho, é a regra. Correr desabaladamente, deixando para trás ruínas sobre ruínas. Abandonar paisagens, memórias, em um impulso, se adiantando, embarcando no expresso 2222 que só nos leva pra depois, até onde a estrada do tempo vai dar, na estação final do percurso-vida, da mãe-terra concebida de vento, de fogo, de água e sal, de floresta, de Cerrado, de destruição e de cobiça.
Expresso que se tivesse saído de Bonsucesso em 1822, teria circulado manchado de sangue e sofrimento. No Engenho da Pedra de Bonsucesso, as temporalidades deviam ser cotidianamente submetidas, junto com seus portadores, às regras da plantation. Se sua data de partida fosse 1922, encontraria um bairro se desenhando, numa cidade que já se mostrava perdida em si mesma. Se fizesse uma escala em 1928, 374 anos depois da deglutição do Bispo Sardinha, traria como divisa que a alegria é a prova dos nove, mas também saberia que nossa independência ainda não foi proclamada, nem lá, nem cá. Sobram-nos os espíritos bragantinos, seguimos de costas para Pindorama.
Entre outras escalas, o expresso poderia parar no momento do contato do povo Panará, em 1973. Suas terras estavam sendo cortadas pela BR 163, a Cuiabá-Santarém, um dos projetos da sanha integracionista da ditatura militar. O contato foi trágico e a população dos Panará reduzida a menos de 20% do original em pouco tempo. Um povo bem alimentado, saudável, altivo, organizado em nove aldeias se desmanchou em mortes, doenças, alcoolismo e prostituição. Em 1975, com a intenção de salvar os Panará, eles foram transferidos pro Parque Indígena do Xingu, mas nunca se adaptaram e sempre almejaram voltar para seu território, o que acabou acontecendo 1995. O desejo dos Panará por seu território ancestral passa pelas paisagens, muito diversas das do Xingu, mas também porque é ali que sua memória persiste e a possibilidade de outras temporalidades, seja nas histórias, seja nos ciclos de vida das plantas e dos animais, existe.
A escala do expresso 2222 no momento do contato dos Panará e sua tragédia poderia ser multiplicada, nas histórias de contato de outros povos originários ao longo do século 20, gente que de repente é confrontada com um outro mundo, onde o tempo só corre para frente e a vida escorre entre os dedos. A domesticação do tempo talvez seja a cartada final da colonização.
Se o expresso 2222 saísse há 10 anos atrás, talvez ele fosse o teleférico do Alemão, que saia de Bonsucesso e nos levava para depois. Se o expresso sair hoje, terá que sair inventando esquecimentos…
Inventar esquecimentos como numa espécie de figura de Leminski: “distraídos, venceremos”. Não distraídos no sentido de sem atenção, mas sim distraídos das dificuldades da luta, distraídos da pretensa impossibilidade de vitória, distantes dos que dizem que nada adianta e que a guerra já está perdida, esquecidos do imenso poder do opressor. Distraídos do tempo que nos impele para frente, agarrados nas alças dos dias, segurando nos flagelos dos minutos, talvez possamos dobrar e desdobrar o tempo.